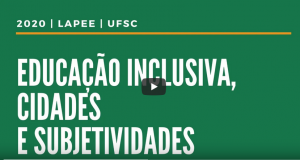-
Vídeo Institucional do LAPEE
Apresentamos o vídeo institucional do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional (Lapee), produzido pela estudante de Psicologia da UFSC Juliana Alves. Ele expõe as principais ações e projetos do Lapee, com ênfase nos projetos de extensão, bem como nossos parceiros habituais. Ficou curioso com algum projeto? Entre em contato conosco! #LAPEE #LAPEE/UFSC
Acesse no nosso Facebook e Instagram!!
-
4º Seminário Internacional – A epidemia e as drogas psiquiátricas
4º Seminário Internacional – A epidemia e as drogas psiquiátricas
O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, da Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ informa que as inscrições estão abertas! O seminário acontece nos dias 05 e 06 de novembro de 2020.
_
Será totalmente online e gratuito, contando com transmissão ao vivo e traduação simultânea. Serão dois dias de palestras, mesas-redondas, debates, a exibição de um filme que serão transmitidos pelo YouTube, além da feira online de Economia Solidária!
-
Educação Inclusiva, cidades e subjetividades
A dica desta semana é o vídeo produzido pelos integrantes da linha de pesquisa Educação Inclusiva, Cidades e Subjetividades, vinculada ao Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional (LAPEE), orientados pela professora Neiva de Assis. No vídeo, os/as pesquisadores/as Jade, João Eduardo, Letícia, Mariah e Rodrigo analisam uma provocação feita para diferentes pessoas: “cidade é lugar para…”. Vale a pena conferir o resultado da pesquisa no link: https://www.youtube.com/watch?v=LuUI1xdHPXE&feature=youtu.be. -
O que está em jogo com a nova Política Nacional de Educação Especial?
Em 30 de setembro de 2020 foi publicado o Decreto n° 10.502, que institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida[2]. O tema é “quente” e urge debatermos as alterações que este decreto produzirá no cotidiano escolar de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência.
Para um melhor entendimento do que está sendo proposto, é prudente efetuar uma breve retomada histórica. Busquei ser sintética e restrita ao cenário nacional, evidenciando, contudo, que cada milímetro avançado em processos inclusivos foi conquistado – sempre! – por meio de árduas lutas travadas em searas sociais e políticas.
Foi somente com a Constituição Federal[3] que as pessoas com deficiência passaram a ter reconhecidos direitos integrais à Educação – referenciados, posteriormente, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)[4] e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)[5]. Além disso, conferências internacionais, como a de Salamanca, em 1994, e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência, em 1999, ampliaram o debate inclusivo e, com base no modelo social das deficiências, lançaram olhares às peculiaridades e especificidades de aprendizado de todos/as os/as envolvidos/as no processo educativo. Este cenário de debates sociais e políticos culminou na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI)[6], em 2008.
A PNEEPEI assegura a inclusão escolar ao público da Educação Especial; reafirma sua transversalidade (da Educação Infantil à Superior); torna obrigatória a matrícula de estudantes com deficiência na rede regular de ensino, bem como a oferta das condições necessárias para que estes/as frequentem as aulas e obtenham êxito nos estudos; prevê a formação docente para o atendimento educacional especializado, bem como a qualificação dos demais educadores, com a participação da família e da sociedade.
Ilude-se quem acredita que a educação inclusiva beneficia exclusivamente as pessoas com deficiência – para tornar a sociedade mais solidária e tolerante é crucial a todos e todas (re)conhecer e respeitar a diversidade humana – e processos inclusivos devem ter início no âmbito escolar. Eu, pessoa sem deficiência, não tive colegas com deficiência no Ensino Fundamental e Médio, perdi a chance de me constituir como pessoa e cidadã tendo a diferença como parâmetro. A escola deve ser um lócus de aceitação da diversidade, da alteridade e da inclusão, posto configurar-se um ambiente plural por natureza, espaço educativo de constituição de sujeitos autônomos e críticos[7], mas esta perspectiva não está “dada”, pois a lógica dos sistemas de ensino é tradicionalmente marcada por uma visão determinista, mecanicista e reducionista.
A PNEEPEI resolveu e consolidou a inclusão escolar em nosso sistema de ensino? Não! Mudanças culturais, sociais e nos processos de formação docente levam tempo para darem bons frutos e demandam investimentos financeiros. Analisamos[8] em outro estudo os dez anos da implementação da PNEEPEI e evidenciamos progressos e a persistência de desafios, tais como aumentar os investimentos em infraestrutura nas instituições de ensino, investir em formação continuada para todos/as os/as profissionais da educação, fomentar trabalhos em equipe e ampliar o acesso dos/s estudantes aos apoios multiprofissionais, entre outros, visando qualificar o atendimento pedagógico inclusivo.
Mas afinal… o que está em jogo na nova a Política Nacional de Educação Especial? O título traz uma perspectiva “equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida”, mas o texto do decreto é uma afronta a todas as lutas e conquistas que culminaram na PNEEPEI, pois este se contrapõe à uma ideia radicalmente inclusiva – radical no sentido de raiz, aquilo que dá a base e sustentação. Se escolas de ensino comum e salas de recursos multifuncionais fizeram avançar a educação inclusiva, sua substituta, na contramão, incentiva salas e escolas especiais, exclusivas às crianças com deficiência. Não garantir a permanência de estudantes com deficiência no ensino regular é nocivo para esta população porque eles/as se beneficiam muito – ou seja, aprendem e desenvolvem – com as dinâmicas escolares e com o convívio com os pares e é nocivo para toda a comunidade escolar porque deixamos de ter a diferença como um valor! Este retrocesso, ainda, contraria a Constituição Federal, o ECA, a LDBEN e as convenções e acordos internacionais das quais o Brasil é signatário. Ao invés de investir em formação docente, infraestrutura e apoios, segregam-se os/as estudantes com deficiência com base em apelos neoliberais!
Este decreto deve ser revisto/revogado, trazendo para o centro do debate as pessoas com deficiência, principais interessadas no assunto. Desde os anos 1970, o movimento “Nothing about us without us” (Nada sobre nós sem nós) vem fomentando a participação destas nos espaços que decidem as suas vidas. Educadores/as em geral, educadores/as especiais, pessoas com deficiência e suas famílias devem ser chamadas para deste debate – e ouvidas! Não podemos permitir retrocessos de 40 ou 50 anos nas lutas inclusivas.
_____
[1] Agradeço às colegas Juliana Silva Lopes e Marivete Gesser pela leitura crítica a este texto.
[2] BRASIL. Decreto n° 10.502/20. Brasília: Poder Executivo, 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948. Acesso em 07 out.2020.
[3] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Presidência da República; Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos, 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 07 out.2020.
[4] BRASIL. Lei n° 8.069/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Presidência da República; Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em 07 out.2020.
[5] BRASIL. Lei n° 394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Presidência da República; Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos, 1996. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 07 out.2020.
[6] BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192. Acesso em 07 out.2020.
[7] MANTOAN, Maria Tereza Eglér. Inclusão Escolar: o que é? por quê? como fazer? 2. ed. Cotidiano escolar: ação docente. São Paulo: Moderna, 2006.
[8] DIOGO, Maria Fernanda; SILVA, Tábata Sell da. Dez anos da Política Nacional De Educação Especial na perspectiva de professores de escolas públicas. Anais do Colóquio Internacional de Educação Especial e Inclusão Escolar. Florianópolis: Galoá proceedings, 2019. Disponível em: https://proceedings.science/cintedes-2019/papers/dez-anos-da-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-de-professores-de-escolas-publicas. Acesso em 07 out.2020.
-
Mesa temática virtual – 06/10
A dica desta quinzena é a 3ª Mesa Temática Virtual da XIII ANPEd Sul, que tem como tema: “A mercantilização da ciência e da universidade: qual futuro para a pesquisa em educação?”.
Participarão da mesa o Prof. Dr. Ângelo Ricardo de Souza (UFPR), o Prof. Dr. Lucídio Bianchetti (UFSC), o Prof. Dr. Rodrigo Dias da Silva (UNISINOS), com a mediação do Prof. Dr. Cláudio Almir Dalbosco (UPF). O debate acontecerá hoje (dia 06/10), das 15h às 17h, e será transmitida pelo Youtube da ANPEd Nacional e Facebook da ANPEd Sul. Vale conferir!
Facebook ANPEd Sul:
https://www.facebook.com/258318787651680/posts/1910650312418511
Youtube ANPEd Nacional:
-
Sobre ser psicóloga na escola
A criança problema. Os estudantes sem pré-requisitos. Os professores horistas. Os atores educacionais solitários. As barreiras construídas entre professores e alunos. O currículo precisa ser cumprido. A escola sem recurso. Embora denunciado, sendo em alguns níveis superados, este cenário coexiste na minha e na sua realidade de trabalho.
A vasta e histórica produção de saberes por uma atuação crítica em psicologia escolar tem nos sustentado no processo de conhecer o chão da escola e buscar coletivamente transformá-lo até aqui. Porém, nós sabemos que não é uma tarefa fácil e nem exclusiva da psicologia.
A nossa formação, por sua vez, nem sempre evidencia todas as contribuições oferecidas pela psicologia escolar. Isso torna o nosso caminhar, por um lado solitário e incerto, e de outro, convidativo para ocuparmos os entre lugares construídos ao longo dos nossos processos formativos e das nossas vivências na escola. Penso que perceber isso também faz parte da concepção acerca do nosso papel de psicóloga nesse contexto.
Entre saberes e fazeres, vamos tomando nota das marcas que nos afetam no cotidiano da escola. Este espaço, embora não represente o único contexto da nossa atuação, carece de ser ocupado por nossas contribuições no âmbito da promoção e da mediação de processos de desenvolvimento para uma formação humana e cidadã. Então, precisamos permanecer atentas sobre o que fazemos, como fazemos e o que estamos (re)produzindo na nossa caminhada na escola.
Nesse sentido, entendo que temos algo a fazer pelo hoje que aguardou quase vinte anos para nos garantir o direito de trabalhar na escola[1]. Cabe a nós, psicólogas, lembrarmos que -, a criança problema; os estudantes sem pré-requisitos; os professores horistas; os atores educacionais solitários; as barreiras construídas entre professores e alunos; o currículo precisa ser cumprido; a escola sem recurso –, seguiu coexistindo neste espaço.
Portanto, para além do combate da superação desta realidade, também é preciso compreender que a autoria desses problemas se estabeleceu na relação entre os nossos atores educativos. Assumir posturas que rompam com as polarizações sobre o que é feito e sobre o que não se faz a psicóloga escolar é um caminho para nos livrarmos das culpas, generalizações e análises aligeiradas sobre a complexidade da trama que constitui o espaço escolar. O nosso momento pede para acolhermos quem chegará para compor conosco e trabalharmos juntas em favor de uma atuação crítica, a partir da vivência na e pela escola, para seguirmos como agentes históricos e politicamente ativos diante do organismo vivo que é a nossa escola.
[1] A Lei 13.935/2019 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.
-
Live – Migrações forçadas: aspectos psicológicos e políticos

O XI Simpósio Brasileiro de Psicologia Política teve sua data adiada em virtude do início da pandemia e tem realizado algumas lives de “aquecimento” do evento. Divulgamos a segunda live, que se realizará no dia 24 de setembro, às 19h, no canal do YouTube do evento. A temática debatida neste encontro será a migração forçada: aspectos psicológicos e políticos.
-
Notas sobre o compromisso ético-político da formação em Psicologia
Marcella Oliveira Araujo
Quadro. Giz. Canetas. Mesas. Cadeiras. Cada item em nossa memória nos lembrando o que não temos usado nesse momento e como temos sido usadas e usados para o cumprimento de uma carga horária que não contabiliza tempos de incertezas. Nestes tempos, a higienização do espaço, compra de equipamentos e cabeamentos, e escalas, têm definido o modo como o projeto de escola tem se tornado um hospital.
Temos reduzido, este momento, e de maneira compreensível, às próprias condições de nossa existência, ao que sentimos falta materialmente. Individual e restritamente. O que conseguimos capturar nesse momento e o modo como temos sido conduzidos ética e politicamente nos faz pensar nas faltas. Sinto falta dos olhares, do encontro dos corpos nos corredores, dos cafés durante e após as aulas, das conversas sobre as contradições do ensino de Psicologia e das políticas educacionais, e seus (não) cuidados. É nesta complexidade que diariamente a escola foi vivenciada e direcionada para o campo do debate e do enfrentamento.
Como sujeitos dos lugares que ocupamos, a capitalização do tempo e do espaço doméstico tem nos colocado diante de questões essenciais sobre aprendizagem e desenvolvimento humano. O silenciamento dos tempos de aula, dos adoecimentos psíquicos, e do excesso de produção de atividades não condizentes com a situação social do desenvolvimento de estudantes, que vivenciam suas crises como crianças, adolescentes, adultos e idosos naquele momento, e não em outro. Estruturalmente, já vínhamos favorecendo a capitalização de nossa existência.
É preciso enunciar nossas vidas na relação com a morte. São 132 mil ausências. 132 mil pessoas que viviam uma realidade em tempos presentes tão passados de indiferença. Este copo não está meio cheio. Relativizar tem nos levado a naturalização do espaço educacional para o cumprimento de carga horária e conteúdo de disciplinas que já reproduzíamos não (compromissadas) com a realidade. É possível entender a vídeo chamada como um espaço do debate, um espaço que possibilite entendimentos para essa realidade que não pode escolher trabalho remoto, que não sabe que pode se escolher como protagonista de um projeto de sociedade.
Meu trabalho docente não é para ouvir a minha própria voz e ver minha própria imagem. Sua formação discente não é para cumprir horas do estágio e de sua graduação. Seu quarto não é uma escola.Que necessidades as escolas e as famílias de nossas comunidades estão enfrentando? O que podemos fazer para acolhê-las? Precisamos construir juntes a realidade à qual você vai se realizar como psicóloga e psicólogo.
A quê(m) temos servido quando não estamos nos organizando politicamente para debater o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e plenas condições de desenvolvimento das e dos professores; das e dos estudantes e seus familiares?
-
III Encontro Nacional do Núcleo de Pesquisa Dialética Exclusão/Inclusão Social (NEXIN)

Estão abertas as inscrições para o III Encontro Nacional do Núcleo de Pesquisa Dialética Exclusão/Inclusão Social (NEXIN), que tem como temática debater as Comunidades Tradicionais e Práticas Psicossociais. O encontro acontecerá, em formato virtual, entre os dias 29/10 a 03/11 de 2020 e ainda é possível inscrever trabalhos para as rodas de conversa. Para conferir mais informações e realizar sua inscrição acesse o site do evento: https://sites.google.com/view/iiinexin2020/in%C3%ADcio?authuser=0
#ficaadica
#lapee
-
A (des)continuidade possível
Desde meados de março de 2020, tenho acordado com a estranha sensação de não saber por onde começar a viver as horas renovadas pela noite. Não que eu de fato não saiba, afinal no dia anterior, graças ao meu papel social de profissional docente, recebi ou me coloquei tarefas a desenvolver on line, acionando o link enviado, password para uma live. Muitas das tarefas desenvolvidas envolvem outras pessoas, conectadas a partir de diferentes papéis, ao desafio de educar e educar-se nestes tempos. Dia destes, conversando com orientandas(os) sobre incertezas em relação à validação de atividades de estágio na modalidade remota, por mais de uma vez tive a sensação de que a conexão digital havia falhado e perguntei: “estão me ouvindo? Aparecem “congeladas” aqui pra mim!” De imediato, movimentos faciais e a resposta de que sim, estavam presentes, que a conexão não tinha caído. Constituirá o dia-a-dia do calendário excepcional afirmar presença e conexão ao mesmo tempo em que assumimos a retirada de nossos corpos dos espaços de formação e a ruptura do vínculo físico com os sujeitos atendidos .
Deste lugar docente, cada hora do relógio segue sendo ocupada como antes do distanciamento social imposto pela pandemia: trabalho – intervalo – trabalho – fim de expediente. Tic Tac, Tic Tac… o dia termina, cai a noite, os telejornais reafirmam o aumento do número de casos e de mortes no Brasil, a baixa porcentagem de pessoas em isolamento social, a indiferença das gentes às regras de distanciamento social e do uso de máscaras, o descaso e o descrédito em relação à ciência, a esperança da chegada de um antídoto a qualquer momento, a aposta na tal imunidade de rebanho, os casos de corrupção envolvendo compras superfaturadas de equipamentos e remédios, a necessária retomada das aulas em escolas e universidades, mediante protocolos de segurança… hora de dormir… hora de acordar – afinal, especialistas afirmam que é importante manter uma rotina durante a pandemia.
Um cenário em ruínas e, ao mesmo tempo, em reconstrução. Tem-se definido assim a contemporaneidade pandêmica. Um cenário que inclui escolas e contratos pedagógicos. Protagonistas de uma cena que queremos acreditar será breve, excepcional, docentes e discentes teremos que recriar o éthos educacional. Mesmo que já o antigo pouco nos contemplasse ou representasse, especialmente pelo caráter abstrato do conhecimento acadêmico, pouco afeito às relações com a prática e as realidades vividas.
Mas exatamente o que ruiu? E o que estamos sendo impelidos a reconstruir? O conjunto de ferramentas que temos disponíveis para este momento de reconexão com nossos papéis de educadoras(es) e de educandas(os) não nos permite partir destas questões. Antes, nos impele a uma atitude calculista, burocrática, adaptativa e excepcional. Seremos virtualmente as(os) mesmas(os) docentes e discentes, reforçadas(os) em seus papéis assimétricos, vinculadas(os) a um contrato pedagógico marcado por um conjunto de afazeres habituais, controladores de assiduidade, participação, nota?
Não seria este o momento de reconhecer que estamos no mesmo barco da (des)continuidade, que não temos as respostas ou pelo menos que as perguntas hoje são outras e superam nossa capacidade de respondê-las? Não seria este o momento de convidarmos uns aos outros para a reconstrução do éthos educacional? De fazer do cotidiano, do vivido e experimentado, questão? Quem está convocado à esta cena educativa excepcional? Qual a continuidade possível hoje, depois que aproximadamente 120.000 vidas foram interrompidas pela COVID 19 no Brasil? Quem estará presente neste cenário remoto, sem cheiros, gostos, cores, corpos? Como lidar com a ressonância das ausências de fato – evasão escolar que chama, né? e das ausências vividas por trás das câmeras – de toque, de olhar, de sorrisos síncronos, de cumplicidade, de aconchego – mantendo relações de ensino e aprendizagem efetivas e afetivas?
Façamos o que for possível com as ferramentas que temos, mas não atendamos a convocações para uma continuidade que não faz sentido. Não cedamos ao fetiche comunicacional, ao passatempo informativo. Estejamos de fato presentes, assumindo o que ruiu, o que está ruindo e o que foi possível criar. Que estejamos comprometidos com a co-criação de um outro ethos educacional, sem rechaço nem submissão contemplativa, inconcluso, aberto, provocativo, convidativo. Mantenhamos, como Jacques Derrida[1] nos ensinou, a atitude atenta de um herdeiro, sendo ao mesmo tempo fiéis e infiéis ao que antecedeu a este momento histórico:
(…) esta mesma herança ordena, para salvar a vida (em seu tempo finito), que se reinterprete, critique, desloque, isto é, que se intervenha ativamente para que tenha lugar uma transformação digna desse nome: para que alguma coisa aconteça, um acontecimento, da história, do imprevisível “por vir” (p.13)
[1] DERRIDA, Jacques; ROUDINESCO, Elisabeth. De que amanhã…diálogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.